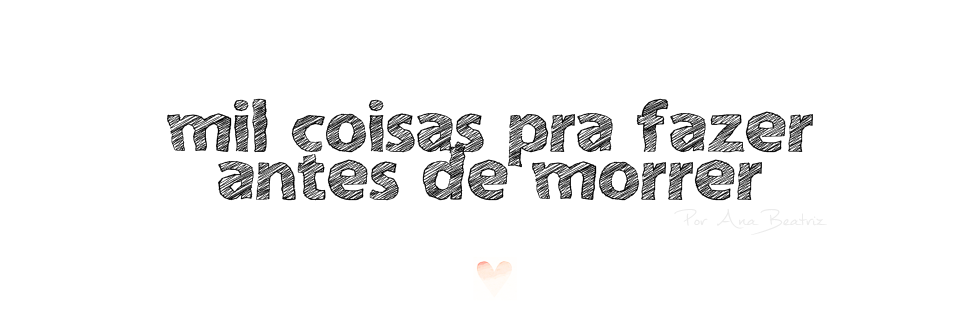As viagens de minha mãe eram sempre épocas tristes. Não sei explicar o porquê, mas meu pai sempre me pareceu um homem muito dado à solidão. Parecia saído de algum desses tantos livros que eu tenho esquecidos na estante: o jogo de xadrez não terminado, Proust aberto na escrivaninha de mogno, o cachimbo recém apagado, uma sombra forte num canto escuro. Meu pai escutava Villa Lobos pra me levar pra faculdade. Lembro de como ele era fascinado com As Quatro Estações de Vivaldi e a gente ficava juntos tentando descobrir qual estação era qual nas diferentes partes da música.
Minha mãe era toda a alegria e a dramaticidade colocadas em uma pessoa só. Ela sempre ensinava a gente a fazer qualquer coisa além do que era esperado pra nós. Enquanto meu pai gostava de fugir das pessoas, minha mãe gostava de chama-las pra jantar. Ela nos ensinava sobre amizade e nos incentivava a ser ativos, ligados, espertos. Ela tinha fé, não só em Deus, mas nas coisas todas, no mundo, nas pessoas. Minha mãe lia Quintana pelas manhãs enquanto regava a horta orgânica que ela tanto gostava. Ela cultivava orquídeas e sempre me comprava livros de poesia. Mas também me cobrava postura e me dizia que era importante estar bem vestida.
Quando eu ainda era muito menina, meus pais me deram um livro muito grande que se chama “Antologia de Poesia Brasileira Para Crianças”. Foi um livro que mudou o meu destino, que despertou em mim alguma coisa que eu não sei dizer. Meu pai tinha uma voz imponente e que parecia pertencer a um Deus e vivia me recitando o poema da flor que era levada pela corrente. Minha mãe não sabia recitar poesias como meu pai. Mas foi ela quem um dia me chamou num canto e leu o poema da estrela tão alta e tão fria e me perguntou se eu tinha entendido todas as coisas implícitas que a estrela representava e eu disse que não. Minha mãe me contou que na poesia nem tudo é o que parece ser e que na grande maioria das vezes não o é. Eu gostava de ouvir a poesia na voz do meu pai, mas foi minha mãe quem me ensinou o verdadeiro valor das palavras.
Eu era uma mistura deles dois. Tinha a sede da vida que tinha a minha mãe e a inquietante vontade de permanecer imóvel do meu pai. Não sabia como conseguia conciliar isso dentro de mim, mas conseguia entender perfeitamente porque eles estavam juntos e eram tão bonitos há tanto tempo.
Não que eu pensasse muito sobre a morte, mas era difícil imaginar que se tudo ocorresse bem eles desapareceriam antes de mim. Era difícil também crescer e descobrir que papai e mamãe não eram infalíveis; que eles existiam de uma forma abusivamente concreta, sujeitos a erros e fracassos. E que eu também não podia simplesmente fazer dezoito anos e fugir, porque eles se importavam comigo e era de verdade e não era nenhum pouco certo ignorar isso.